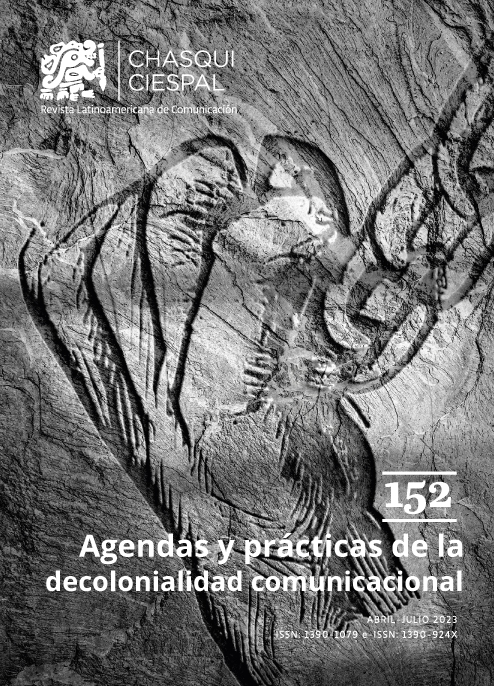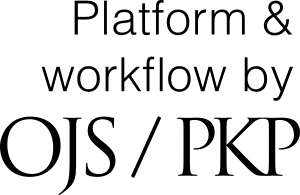Periodismo educomunicativo: cuestiones de formación y decolonialidad
DOI:
https://doi.org/10.16921/chasqui.v1i152.4809Palabras clave:
cursos de periodismo, comunicación y educación, territorios educativos, ciudadanía, justicia social.Resumen
Este artículo considera el periodismo como emancipación social para abordar cuestiones de decolonialidad. Se basa en investigaciones sobre la socialización del conocimiento, el periodismo ciudadano y las habilidades educomunicativas. El marco teórico-metodológico recurre a la educomunicación como epistemología del Sur, a la comunicación dialógica de Paulo Freire, a la comunicación educativa de Mario Kaplún y al periodismo como elemento de emancipación social, movilizando el análisis documental como método. El texto se divide en cuatro partes: la contextualización de la educomunicación, los aspectos de la formación y la perspectiva de la decolonialidad en los cursos de periodismo, las competencias educomunicativas y las prácticas pedagógicas en los territorios educativos que incentivan el trabajo periodístico en el proceso decolonial.Referencias
Academia Brasileira de Letras (2021). Educomunicação. Recuperado de https://www.academia.org.br/nossa-lingua/nova-palavra/educomunicacao.
Aparici, R. (Org.). (2014). Educomunicação para além do 2.0. São Paulo: Paulinas.
Brasil – Ministério de Educação. (2018a). Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira (Resolução nº 7). Brasília, de 18 de dezembro de 2018.
Brasil – Ministério de Educação. (2018b). Base Nacional Comum Curricular. Educação é a base. Brasília: MEC. Recuperado de http://basenacionalcomum.mec.gov.br.
Brasil – Ministério de Educação. (2013). Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Jornalismo (Resolução nº 21). Brasília, de 27 de setembro de 2013.
Carta das Cidades Educadoras. (2020). Associação Internacional de Cidades Educadoras (AICE). Barcelona: AICE. Recuperado de https://www.edcities.org/wp-content/uploads/2020/11/PT_Carta.pdf.
Carvalho, E. S. (2022). Pedagogia do Jornalismo: pra quê? In: E. Meditsch., E. Kronbauer & J. F. Bezerra, (Org.). Pedagogia do Jornalismo: desafios, experiências e inovações. (pp. 23-42). Florianópolis: Insular.
Ferreira, B. O. (2022). Jornalismo e educação: competências necessárias à prática educomunicativa. Curitiba: Appris.
Freire, P. (2018). Pedagogia da esperança: um reencontro com a Pedagogia do Oprimido. 24ª ed. (Trabalho original publicado em 1996). São Paulo/Rio de Janeiro: Paz & Terra.
Gomes, R. & Azevedo, G. (2020). De territórios vulneráveis aos Territórios
Educativos. Revista Thésis, 10(5), 48-61. Recuperado de https://thesis.anparq.org.br/revista-thesis/article/view/224.
Gomes, N. L. (2017). O movimento negro educador. Saberes construídos na luta por emancipação. Petrópolis, RJ: Vozes.
Gue Martini, R. (2019). Educomunicador como agente de integração das tecnologias de informação e comunicação na escola. (Tese de Doutorado, Universidade do Minho). Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade do Minho. Recuperado de https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/64378/3/Rafael%20Gue%20Martini.pdf.
Huérfano, E. H., Sierra, F. C. & Rojas C. V. (2016). Hacia una Epistemología del Sur. Decolonialidad del saberpoder informativo y nueva Comunicología Latinoamericana. Una lectura crítica de la mediación desde las culturas indígenas. Chasqui, Revista Latinoamericana de Comunicación, 131, pp. 77-106.
Jara, O. H. (2006). Para sistematizar experiências. Trad. Maria Viviana Resende. v. 2. ed., revista. (Série Monitoramento e Avaliação, 2). Brasília: MMA.
Kaplún, M. (2014). Uma pedagogia da comunicação. In: R. Aparici. Educomunicaçao
para além do 2.0 (pp. 59-78). São Paulo: Paulinas.
Kronbauer, J. (2021). A socialização de conhecimentos pelo jornalismo: afinidades e diferenças com as práticas pedagógicas do ensino formal. 2021. Tese (Doutorado em Jornalismo) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.
Kovach, B. & Rosenstiel, T. (2014). The Elements of Journalism: what newspeople should know and the public should expect. Nova York: Three Rivers Press.
Martín-Barbero, J. (2014). A comunicação na educação. Trad. Maria Immacolata Vassalo Lopes e Dafne Melo. São Paulo: Contexto.
Maldonado, C. (2016). Introducción: Apuntes sobre descolonización epistémica en el pensamiento comunicológico regional. En: Chasqui, Revista Latinoamericana de Comunicación, nº 131, pp. 39-46
Meditsch, E. & Kronbauer, J. (2021). Contratos Comunicativos no ensino formal e no Jornalismo: uma análise comparativa entre agências socializadoras de Conhecimentos. Comunicação & Educação, n. 26, no. 1, p. 42-53.
Meditsch, E., Ayres, M. B., Betti, J. G. & Barcelos, M. (Orgs.). (2018). O ensino de Jornalismo sob as Novas Diretrizes: miradas sobre projetos em implantação. Florianópolis, SC: Insular.
Meditsch, E., Kronbauer, J. & Bezerra, J. F. (Org.). (2020). Pedagogia do Jornalismo: desafios, experiências e inovações. Florianópolis: Insular.
Medistch, E. (2017). Tipos e formas de conhecimento na escola de jornalismo. In:
F. F. Almeida., K. Carilho. & R. Bastos (Org.) Fórum Ensinocom: realidades e perspectivas do ensino de comunicação no Brasil. São Paulo: Intercom.
Moreira, S. V. (2017). Análise documental como método e como técnica. In: J. Duarte. & A. Barros, (Org.). Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação. 2ª ed. São Paulo: Atlas, p. 269-279.
Moreira, S. V. & Pereira, A. A. (2021). Cursos de Jornalismo em perspectiva histórico-geográfica: arranjos locais e regionais no Brasil. In: Comunicação & Educação. a. 26, v. 1. (pp. 19-30).
Oliveira, D. (2017) Jornalismo e emancipação: uma prática jornalística baseada em Paulo Freire. Curitiba: Appris.
Onu – Organização das Nações Unidas. (2015). Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Recuperado de https://brasil.un.org/pt-br/sdgs.
Prandini, P. D. (2022). Conexão Atlândica: branquitude, decolonialitude e educomunicação em discursos de docentes de Joanesburgo, de Maputo e de São Paulo. ECA/USP. 311p.
Pitanga, C. (2020). Educomunicação e jornalismo: possibilidade de prática educativa para o exercício do jornalismo cidadão. 2020. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia.
Pinto, M. (2008). Web 2.0 e os Media: da Alocução à Conversação. Braga, Portugal. Recuperado de www.academia.edu/3576353/Web_2.0_e_os_Media_da_Alocução_à_Conversação.
Pereira, A. A. & Moreira, S. V. (2022, 20 a 22 de abril). A inserção dos cursos de Jornalismo no território: o GT de atividades de extensão no ENPJ. Anais do 21º Encontro Nacional de Ensino de Jornalismo.
Rawls, J. (2003). Justiça como equidade: uma reformulação. Trad. Claudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes.
Relatório de Desenvolvimento Humano 2020. A próxima fronteira: o desenvolvimento humano e o Antropoceno. 2020.
Rosa, R. (2020). Epistemologias do Sul: desafios teórico-metodológicos da educomunicação. In: Comunicação & Educação. a. 25, v. 2. (pp. 20-30).
Santos, M. (2020). O espaço do cidadão. 7ª ed. (Coleção Milton Santos; 8) São Paulo: EdUsp.
_______. (2005). O retorno do território. In: OSAL: Observatório Social de América Latina. a. 6, n. 16. Buenos Aires: Clacso.
Santos, M. & Silveira, M. L. (2020). O Brasil: território e sociedade no início do século XXI. Rio de Janeiro: Record.
Sierra, F. (2016). Comunicación y Buen Vivir. Nuevas matrices teóricas del pensamiento latinoamericano. En: Chasqui, Revista Latinoamericana de Comunicación, nº 131, pp. 9-20.
Singer, H (Org.). (2015). Territórios Educativos: experiências em diálogo com o Bairro-Escola. São Paulo: Moderna.
Soares, I. O. (2014). Educomunicação e Educação Midiática: vertentes históricas de aproximação entre comunicação e educação. In: Comunicação & Educação. a. 19, v. 2. (pp. 15-26).
_______. (2009). Teorias da Comunicação e Filosofias da Educação: fundamentos epistemológicos da educomunicação. Documento de suporte à Prova de Erudição do Concurso para Professor Titular da USP, 2009.
_______. (1999). Comunicação/Educação: a emergência de um novo campo e o perfil de seus profissionais. Contato: Revista Brasileira de Comunicação, Educação e Arte, Brasília, a.1, n.2, p. 19-74, jan./mar.
Souza, B. S. & Meneses, M. P. (2009). Epistemologias do Sul. Coimbra: Edições Almedina.
Souza Santos, B. (2002). Para uma sociologia das ausências e uma sociologia das emergências. In: Revista Crítica de Ciências Sociais. n. 63, (pp. 237-280). Coimbra: Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e Centro de Estudos Sociais.
Stumpf, I. R. C. (2017). Pesquisa bibliográfica. In: J. Duarte. & A. Barros (Orgs.). Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação. 2ª ed. São Paulo: Atlas, p. 52-61.
UFSM – Universidade Federal de Santa Maria. (2018). Professora da UFSM apresenta resultados de pós-doutoramento em Portugal. Publicado em 10/08/2018. Recuperado de https://ufsm.br/r-1-43779.
Viana, C. E. (2017). A educomunicação possível: práticas e teorias da educomunicação, revisitadas por meio de sua práxis. In: I. O. Soares., C. E. Viana. & J. B. Xavier. Educomunicação e suas áreas de intervenção: novos paradigmas para o diálogo intercultural Reflexão epistemológica sobre a inter-relação comunicação/educação. (pp. 925-942). São Paulo: ABPEducom.
Walsh, C. (2005). Introducion - (Re)pensamiento crítico y (de)colonialidad. In: C. Walsh. Pensamiento crítico y matriz (de)colonial. Reflexiones latinoamericanas (p. 13-35). Quito: Ediciones Abya-yala.
_______. (2017). Interculturalidad y colonialidad del poder. Un pensamiento y posicionamiento “otro” desde la diferencia colonial. In: S. Castro-Gómez & R. Grosfoguel (Ed.). El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. (p. 115-142). Bogotá: Siglo del Hombre Editores; Universidad Central, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos y Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar.
_______. (2017). Pedagogías Decoloniales. Prácticas insurgentes de resistir, (re) existir y (re)vivir. Tomo II. Quito: Abya-Yala.
Descargas
Publicado
Número
Sección
Licencia
- Los autores/as conservarán plenos derechos de autor sobre su obra y garantizarán a la revista el derecho de primera publicación, el cuál estará simultáneamente sujeto a la Licencia Reconocimiento-SinObraDerivada de Creative Commons (CC BY-ND), que permite a terceros la redistribución, comercial y no comercial, siempre y cuando la obra no se modifique y se transmita en su totalidad, reconociendo su autoría.
- Los autores/as podrán adoptar otros acuerdos de licencia no exclusiva de distribución de la versión de la obra publicada (p. ej.: depositarla en un archivo telemático institucional o publicarla en un volumen monográfico) siempre que se indique la publicación inicial en esta revista.
- Se permite y recomienda a los autores/as difundir su obra a través de Internet.